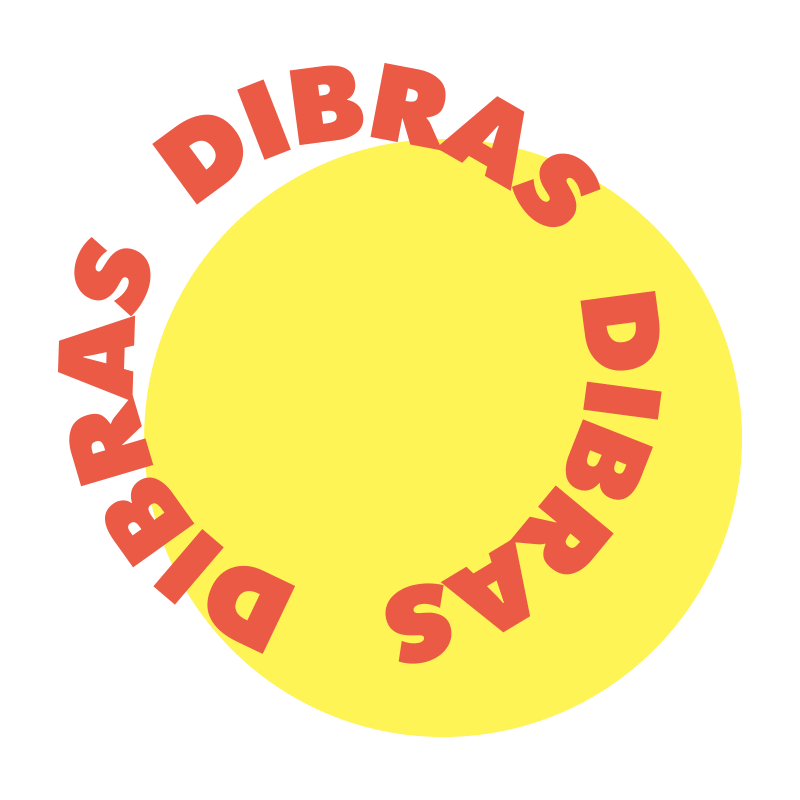*Entrevista produzida em parceria com a Nike
A história que vou contar aqui é um pouco surreal. Estar aqui, hoje, como uma das capitãs da seleção brasileira, prestes a embarcar para a Copa do Mundo, é algo muito surreal. Vou contar pra vocês por quê.
Desde pequena, sempre gostei de futebol, de bola. Meu primeiro presente foi uma bolinha rosa que eu tinha, ficava brincando com ela por toda parte. Eu nasci numa cidade bem pequenininha, chamada Cipó, no interior da Bahia (cerca de 250km de Salvador). Lá não tinha muitas opções de lazer e, sinceramente, acho que isso me ajudou, porque eu ficava brincando com os meninos, jogando futebol na rua, na praça, na quadra da escola. Jogava descalça mesmo, era meu passatempo predileto.
Uma das minhas primeiras memórias da infância é um aniversário que minha mãe organizou com o tema “Copa do Mundo”. Faço aniversário no mês de junho, então vira e mexe batia com a Copa. E por eu ser apaixonada por futebol, minha mãe fez a festa toda verde e amarela, colocou bandeirolas do Brasil, e tudo. A gente dividiu os times, um de camisa verde, outro de camisa amarela, e aí a gente fechou a rua da nossa casa para jogar. Era meu aniversário de sete anos, foi na Copa de 1998, nunca me esqueci.
Mas nem tudo foram flores na minha infância. Meus pais sempre me deixaram jogar bola, só que ouviam comentários horríveis dos vizinhos. Eu mesma ouvi amigos do meu pai falando pra ele: “Como você deixa sua filha jogar futebol? Ela fica com os meninos até tarde, vive suja na rua”. Eles não falavam diretamente comigo, falavam com meus pais. Isso me incomodava muito. E proibiam as filhas deles de brincar comigo porque eu estava com os meninos jogando. Pediam para elas não se misturarem comigo, como se eu fosse uma coisa negativa!
E eu só queria jogar bola. Futebol sempre foi uma brincadeira pra mim. Não imaginava que poderia ter isso como profissão. Quando eu conto essa história pras meninas mais novas, elas não acreditam. Porque, na nossa época, não passava futebol feminino na TV.
Na parede do meu quarto, tinha um desenho que fiz de lápis. Era eu fazendo um gol de falta com um balãozinho escrito assim: “Que pena que é apenas um sonho”. Escrevi isso e ficou na minha memória. É mais fácil hoje, mas as novas gerações não têm noção do quão difícil era naquele tempo. Por estar no Nordeste na época, era ainda mais impensável ser uma jogadora de futebol. Eu nunca imaginei isso. Queria estudar, ser engenheira, ter um emprego estável.
Eu saí da cidadezinha do interior porque passei na prova da escola técnica federal. Meu objetivo de sair do interior era estudar. Fui pra capital e aí, nos Jogos Escolares da Bahia, alguém me viu e me indicou para o São Francisco do Conde. Comecei a treinar com elas, um time adulto, e eu tinha 15 anos na época. Era tudo muito novo pra mim, eu nunca tinha usado uma chuteira. O técnico Mario Augusto me deu uma, eu coloquei no pé e achei aquilo horrível, era algo de outro mundo. Parecia que eu estava de tamanco, não conseguia jogar. É engraçado falar isso, mas é a realidade.
Até aí, eu ainda estava me dividindo entre estudo e futebol, ia treinar só quando dava. Até que fui convocada pra seleção sub-17, aos 15 anos. Foi a primeira convocação da história da seleção sub-17 feminina. Imagina, para aquela criança que saiu do interior, pegar avião pela primeira vez, subir a serra naquele ônibus bonito verde e amarelo… aí você chega na Granja (Comary) e tá ali, suíte 22: “Rafaelle Souza”. Aquela mala com a roupa da Nike, uniforme, chuteira, aquele escudo do Brasil, a vista para os campos maravilhosos da Granja, eu falava: meu Deus o que é isso? Ficou na minha cabeça pra sempre. Era novembro de 2007. Ali eu tive noção: poxa, eu posso ser jogadora, posso representar a seleção.
Fui pra seleção sub-17, depois pra sub-20 direto e aí eu passei no vestibular pra Engenharia na Universidade Estadual da Bahia. Eram dois períodos, integral, eu não tava conseguindo conciliar os dois. E pelo retorno financeiro, eu tinha que escolher a Engenharia. Só que aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. O pai de uma amiga me disse: lá é possível conciliar os dois. Eu poderia conseguir uma bolsa para estudar jogando futebol. Foi o que eu fiz.
Cheguei lá e vi as meninas desde pequenas com a mochila nas costas, a bola na mão, indo treinar. Futebol ali era coisa de menina. Na minha faculdade, só tinha time feminino de futebol, a gente viajava em avião privado pra jogar, tinha roupa da Nike, chuteira da Nike, foi ali que comecei a acreditar que aquilo poderia ser minha profissão.
Mas quem disse que seria fácil? Eu não falava nada de inglês. Mal conseguia dizer “how are you” (“como você está?”). Fui dois meses antes pra fazer um curso intensivo porque eu tinha que passar na prova pra fazer faculdade – se eu não passasse, teria que estudar seis meses só de inglês e, sem a faculdade, eu não poderia jogar. Passei com a nota limite. Meu curso era Engenharia Civil, peguei só as matérias de Cálculo, coisas que tinham só números e contas, pra me virar. Foi difícil, adaptação da cultura, da língua, comida, mas eu desenvolvi bastante fisicamente, taticamente. Fui pra lá pequenininha, magrinha, não tinha muita coordenação motora, lá era outro mundo.
Não vou mentir que eles tentaram me convencer a jogar pelos Estados Unidos, vestir a camisa da seleção deles. Mas eu já tinha ido pra seleção brasileira sub-20, já tava com um pezinho na principal, eles não me converteram. Tentaram, mas aqui é Brasa, é drible, ninguém joga futebol que nem a gente.
Cheguei na seleção principal ainda novinha, fui convocada quando o Kleiton Lima era o técnico, e eu treinava de lateral esquerda com a Rosana. Meu Deus do céu, eu ficava vendo ela fazer aqueles cruzamentos perfeitos, ia até o fundo, cruzava, eu ficava de boca aberta com a precisão. Eu, magrinha, tímida, só queria fazer igual. A Formiga, a Esther, a Elane, elas eram jogadoras muito técnicas, era lindo de ver, eu ficava tentando imitar. Peguei a transição dessas meninas e agora tem as novinhas que estão chegando, uma outra renovação, é um privilégio poder fazer parte desses dois momentos da história.
Sinto que um dos meus papéis hoje na seleção não é só dentro de campo, é fora também. O que eu tento passar pras meninas que estão chegando é que o que elas têm hoje não foi fácil conseguir. A gente tem que dar mais valor a isso, mais valor a gerações que passaram. Se hoje a gente tem o melhor tratamento na seleção, viaja de Business, tem toda a estrutura, isso é fruto do que as meninas fizeram lá atrás, então a gente hoje tem que fazer mais por elas. É dar o máximo dentro de campo, mas também fora, se cuidar, se dedicar.

Olha o que vivemos em Wembley, na Finalíssima. Isso era impensável na minha época. Eu, jogando bola descalça na rua, em Cipó (BA), nunca poderia imaginar que um dia eu estaria entrando em campo em Wembley com mais de 80 mil pessoas no estádio. Olhei para o alto na hora que subimos para o gramado, arrepiou. Minha mãe estava ali, meus amigos, a atmosfera era surreal. Passou um filme na minha cabeça. Era uma coisa que eu nem imaginava quando era pequena. É história pra contar para os filhos, para os netos. E eu só pensava: a gente não podia fazer feio.

Naquele jogo, a Pia (Sundhage, técnica da seleção) quis testar algo diferente. A gente jogou com cinco na defesa, e todo mundo abraçou a ideia. Mas durante o primeiro tempo, confesso que eu tava odiando. A gente não conseguia ficar com a bola. Eu sei da nossa qualidade com a bola nos pés, odeio ficar atrás só defendendo.
Saí do primeiro tempo querendo quebrar tudo. No intervalo, a Pia mudou o esquema, voltou para o 442. Eu teria mudado com 15 minutos do primeiro ainda, juro. Mas o bom foi a gente ter mostrado que a gente consegue jogar contra uma Inglaterra.
Aí veio a Alemanha na casa delas. Estádio cheio, a despedida da Marozsán, a festa toda preparada para elas. O Brasil só tinha vencido as alemãs uma vez, e elas nunca tinham perdido em casa. Só que foi diferente a história desse jogo, porque a Finalíssima nos deu confiança. A gente entrou acreditando que podíamos ficar com a bola. Com a qualidade das jogadoras brasileiras a gente consegue envolver qualquer seleção, inclusive a Alemanha. Nossa confiança tava maior. E saímos de lá com a vitória. O mais importante ali foi que a gente provou para nós mesmas o quanto nós somos capazes, isso é o que a gente mais precisa pra Copa.

Eu não pude estar no Mundial de 2019, estava machucada e não me recuperei a tempo. Mas vi tudo de casa, a mobilização das pessoas, a visibilidade, o sucesso, a qualidade dos jogos. Nessas últimas temporadas no Arsenal, vi o quanto o futebol feminino cresceu na Inglaterra, e também no Brasil. O futebol feminino está crescendo em todo lugar. Acho que essa Copa agora vai passar uma mensagem para o mundo de que o futebol feminino é real, é um investimento, é o esporte do futuro, mas também da atualidade.
Se eu pudesse reencontrar aquela menina no interior da Bahia que jogava futebol descalça na rua, eu diria pra ela: pode sonhar, pequena. Isso não é só brincadeira. Isso vai mudar sua vida, vai realizar todos os seus sonhos. Segue seu instinto, mas acredite: essa vai ser sua profissão na vida.
Sou Rafaelle Souza, engenheira civil formada, jogadora de futebol, e tô indo pra Austrália realizar mais um sonho. Aos amigos do meu pai que diziam pra ele não me deixar jogar futebol na rua? Um dia envio pra vocês meu DVD.