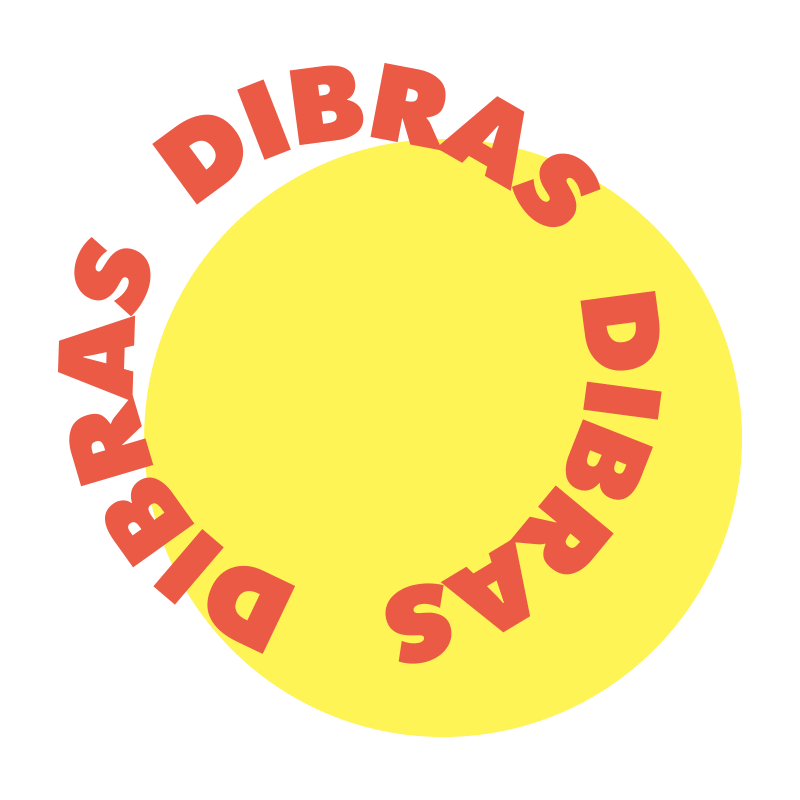Para quem há 15 anos está acostumada com as idas e vindas a GP’s, paddocks, pódios, correr de um país a outro, viver intensamente uma cobertura de Fórmula 1, parar é um verbo que não combina com a conjugação em primeira pessoa. Pois bem, se a “sujeita” for Mariana Becker, não combina mesmo!
A jornalista foi “forçada” a segurar a ultrapassagem. “Tá, tá andando… devagar e sempre, devagar que é o pior para mim, mas é devagar e sempre. Me obrigou a andar devagar, é bom que aprendo a ter um pouco de paciência”, comenta Mari sobre seu acidente de esqui sofrido em fevereiro deste ano e que resultou em cirurgia para reparar ligamentos do tornozelo esquerdo.
Primeira mulher brasileira a cobrir um Mundial de F1 na televisão, o percalço atual é “só mais um” na vida e carreira da repórter da Band. Mariana Becker desbravou um mundo que, naquela época, era inimaginável para uma mulher. E hoje, ela vê muitas mudanças acontecendo e questões urgentes e importantes sendo levantadas pelo principal piloto da categoria atualmente, Lewis Hamilton. Se antes não se falava de racismo, machismo e minorias na Fórmula 1, hoje, a postura adotada pelo britânico tem tido um impacto importante num ambiente que já foi tão elitista e dominado exclusivamente por homens brancos.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Mariana Gertum Becker (@oficialmarianabecker)
Início desafiador
“Eu que tive que entrar no time dos caras grandes, tive que entrar na pequena área, passei a jogar no ataque, infiltrada. Era uma coisa muito pontual ter mulher. Na televisão brasileira, que era o grande veículo de popularização desse esporte, eu fui a primeira”, diz a jornalista. “Eu acho que eu tinha uns 30 e poucos anos, não era nenhuma novata, já era uma repórter, já tinha feito coisas desafiadoras e importantes na carreira, mas nada nesse âmbito e com esse tipo de desafio”, completa.
Antes de se aventurar no mundo da F1, Mari passou por rádio, revista, jornal, fez freelas até chegar à TV Globo, onde permaneceu por 27 anos. “Minha primeira matéria foi com umas gurias campeãs mundiais de surfe de peito (bodysurf), fiquei muito nervosa. Isabelle de Loys foi quem venceu, hoje ela é Arquiteta Urbanista, voltada para a questão do meio ambiente. Éramos todas umas meninas, e é engraçado que todas as minhas primeiras matérias eram voltadas para a mulher, que era minha grande curiosidade. Eu sempre fui uma menina que fez muito esporte, convivia no meio de homens e mulheres, achava muito estranho ter um ambiente que fosse mais masculino do que feminino, então eu ficava totalmente fascinada porque eu via umas gurias fazendo umas coisas que eu sempre quis fazer”, diz a repórter.
O mundo real desse jornalismo encontrado por Mariana era diferente daquele que lhe foi apresentado dentro de casa. “Eu tive duas recepções bem diferentes. Tive uma, que era a da maioria, de muita desconfiança: ‘Será que ela vai ser capaz?’, e pelos mais diversos motivos, ou porque me achavam muito jovem, ou porque eu era mulher. Tinha muita desconfiança e durou muito tempo. E teve quem apostasse e dissesse: ‘Vamos, quero ver qual que é, do que você é capaz, estamos aqui junto”, completa.
Criação voltada para o mundo
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Mariana Gertum Becker (@oficialmarianabecker)
“Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe de um jeito que a gente podia e devia frequentar o lugar que a gente quisesse, depois que eu fui descobrir que não era bem assim (risos). Quem desconfiava de mim me tocava muito mais do que quem apostava, porque quem apostava me tocava de maneira prática. Eu dizia: ‘Não estou conseguindo tal coisa’ e a pessoa me dava uma força. Quem tinha desconfiança era difícil de fazer o trabalho. Você começa a duvidar de você mesma. Eu não era o tipo de pessoa que chegava lá e ouvia uma crítica e dizia: ‘Dane-se, vamos nessa, todo mundo erra’. Eu ouvia a crítica, sentava e pensava como fiz, como é, eu era mais crítica ainda comigo e isso me atazanava a cabeça”, explica a repórter.
Para amenizar o sofrimento por conta das críticas e das dificuldades impostas por aqueles que, por alguma razão, não estavam interessados em serem legais com a então jovem jornalista, Mari fez o que a maioria das mulheres precisam fazer para se “protegerem”: apostar no autocuidado. “Demorou para eu começar a ser mais bacana comigo mesma. A dizer: ‘Pera aí, errei aqui, mas acertei ali. O fulano também errou’. Até que eu comecei não só a me dar mais chances como a me proteger, não ouvir todo mundo, não levar tão a sério tudo o que essas pessoas me diziam. Eu selecionava o que era maldade e o que era de verdade”, diz Mari.
Maldade, inclusive, que muitas vezes levamos um tempo para assimilar. “Eu sofria (assédio) e não me dava conta. Eu vivia num meio antigo bem masculino, então ouvia coisas que hoje em dia seriam inaceitáveis. Você via que se você desse mole para o cara ele iria facilitar tua vida como facilitou para a outra ali, ou ao contrário, freava sua vida porque você não estava dando mole. Além de ser gaúcha, eu tenho um lado do que é certo é certo e o que é errado é errado. Mas aprendi no Rio de Janeiro a não ser tão brava, me flexibilizar, porque eu acho que qualquer ambiente que seja novo, você tem que ser flexível com os outros também para não criar inimizades”, explica.
Maturidade nos caminhos da vida

Desde essa época que Mari Becker está acostumada a viver longe de casa. Passou muitos anos no Rio de Janeiro, onde no começo perambulava com uma televisão pequena debaixo do braço e uma mala. “Quando eu saí da casa dos meus pais eu botei na cabeça que eu que ia segurar a onda, não ia poder ficar pedindo coisa, pedindo ajuda financeira”, conta a repórter.
Do Sul para o Rio e do Rio para diversos lugares do mundo, Mari garante que não se sente e nem se sentiu sozinha, mesmo sendo uma das poucas mulheres nos grupos que entrava. “Teve muita mulher chegando pelos meios eletrônicos, televisão e rádio, mas logo que cheguei tinha acho que umas duas ou três, mas eu nunca me senti sozinha porque eu sempre andei em meios de homens, não chegava num lugar e buscava especificamente uma mulher para ficar junto, buscava um amigo ou uma amiga, alguém que fosse parceiro”, fala a jornalista.
Trilhando os caminhos das coberturas, se casou com seu companheiro de equipe, o produtor de TV Jayme Brito. “Às vezes eu precisava de uns colegas, amigos do meio me falando: ‘Isso aí que estão fazendo com você não está certo’. O Jayme fez isso comigo, antes mesmo de sermos namorados/marido e mulher. De eu ficar acuada, numa situação X e ele dizer: ‘Não, isso daí não fazem com ninguém, estão fazendo só com você, vai lá’. Isso me dava a certeza de que o que eu estava fazendo estava certo, que eu não estava sendo incompetente”, diz Mari.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Mariana Gertum Becker (@oficialmarianabecker)
“Essa é a grande questão da gente, né? Quando vamos para um meio que já está há muito tempo só masculino, você fala: ‘Tenho que ser tão ou mais competente que esse cara’. E aí você passa o tempo todo olhando para o outro ao invés de olhar para você, o que é um horror”, completa.
Mari saiu de casa muito cedo e criou uma relação séria com a liberdade. Nunca foi cobrada pelos pais para ter um marido e/ou criar uma família, havia certa preocupação apenas com a solidão.
“Tinha uma preocupação de ter alguém ao lado, de não ficar muito sozinha. Nunca vi ciúme e controle dentro de casa e eu nunca sonhei em me casar e ter filhos, para mim era natural, iria acontecer. Só que eu fui cada vez mais querendo independência e liberdade e a ideia de me casar e ter filhos vinha mais forte pela ideia de limite e aprisionamento do que de todo o afeto e carinho e o lado bom, ficava mais aflita de ser livre e eu mesma. Cada namoro que eu terminava eu lembro que ligava para o meu pai e dizia: ‘Pai, e agora, como é que eu vou ter filho?’ e meu pai, ginecologista e obstetra, dizia que tinha tempo, e acabei não tendo. Mas tem meus enteados e não é um troço que olho e: ‘Ai meu Deus’, mas eu gostaria, acho que eu teria sido uma boa mãe”, relata Mari.
Se redescobrindo e renovando, assim como a Fórmula 1
Por conta do seu acidente de esqui, esta foi a primeira vez que Mari Becker perdeu o início da temporada da Fórmula 1 desde que cobre a modalidade. Durante seu período de recuperação, muitos pilotos lhe mandaram mensagens de apoio e recuperação, incluindo Lewis Hamilton, o cara que decidiu usar sua voz – e imagem – para debater assuntos sociais que até então não se falavam na F1.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Mariana Gertum Becker (@oficialmarianabecker)
“Começou de poucos anos para cá (falar desses assuntos) e muito liderado pelo Hamilton. Independentemente do que move ele, o fato de ter alguém que resolveu falar alto sobre questões que não fossem cômodas e de glamour fez com que aquele ambiente mudasse. Se exigisse o meio social e consumo daquele esporte, passou a exigir também que houvesse algum pronunciamento sobre as coisas, não só ação. Não se falava na Fórmula 1 quando eu cheguei de mulheres, de racismo, de gays, de lésbicas. Não se falava de minorias, de pobres, isso começa a crescer no momento em que o Hamilton fala. E aí você vê ações da F1, de algumas equipes, você começa a ver que tem um pouco mais esse movimento, que é quase sempre muito público, para mostrar que estão fazendo”, aponta Mari.
“O Vettel é um cara que nos últimos anos foi se revelando eloquente no sentido de ação. Ele mesmo vai lá catar o lixo, por exemplo, e ele não era assim antes, e foi mudando de uma forma extremamente consciente, de ação pequena, aquela história de que ‘vamos agir no pequeno para o macro mudar’. Mas ainda não vejo um movimento maior, do coletivo”, completa.
Aos 51 anos, Mari também viu outras mudanças, que passam por ela mesma. “A cada geração muda a percepção sobre o que é novo, velho, quem é novo e quem é velho. Eu estou contente que estou numa geração que está falando minha língua, mulheres que têm 50 como eu que estão se mostrando, quem são, o que gostam, o que fazem, que são produtivas na sua vida, não só profissional. Eu conto na minha vida social também. Tenho amigos de diferentes cidades, idades, filhos de amigas que me ligam chamando para sair. É muito pouco você cercear o seu tempo legal e importante de vida social dos 22 aos 35. Pô, 12 anos só? E o resto?”, brinca a jornalista.
“Se por um lado eu estou contente com a minha idade, a gente sempre quer mais, né. Isso incomoda um pouco. Acho que tem sim uma coisa de televisão também, principalmente uma visão antiga, não sei se continua sobre estar velha para TV. Antes era a grande preocupação de mulher repórter de televisão, via os caras mais velhos e não via as mulheres. É uma sacanagem só porque está com cabelo e rugas não poder falar o que pensa, ou pior, não poder entrevistar os caras com toda consciência e a segurança que te dá essa idade”, completa.

Às mais novas, ou recém-formadas, Mari compartilha o que com ela funcionou. “Além de dizer: ‘Olha, considere que quem está ali pode estar passando pela mesma coisa que você, se veja ali’ é sempre se perguntar se o quanto que você gosta daquilo que você está fazendo é mais do que o obstáculo que está na sua frente, era o que eu fazia. E quando você tem isso as barreiras vão ficando menores. Você diz: ‘Não é uma ou outra pessoa que vai me dizer o que eu vou fazer, quem vai me dizer o que fazer sou eu”, aponta a repórter.
“A única coisa que eu acho que realmente funciona no nosso espaço dentro do jornalismo/esporte é você ser solidária. A gente só realmente consegue mudar falando junto, sendo solidária um com o outro e isso é da sororidade e da fraternidade. Uma ficar falando sozinha e competindo com a amiguinha não vai adiantar. É junto que a gente se faz ouvir, que consegue as coisas”, conclui uma das principais representantes femininas em um meio ainda muito machista e segregado.