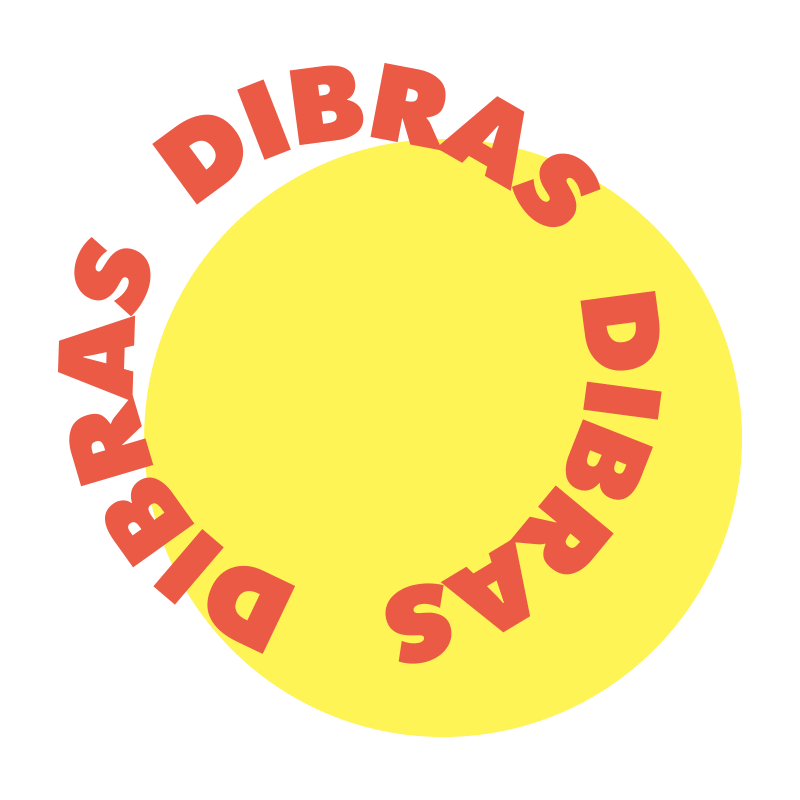Passar por testes científicos com o objetivo de evitar a “trapaça” no esporte faz parte da rotina de qualquer atleta. Mas entre as décadas de 1960 e 1990, um exame destinado especificamente às mulheres chamou a atenção. Começou em 1966 quando a IAAF (Federação Internacional de Atletismo) submeteu as competidoras a um procedimento um tanto incomum – e considerado invasivo por elas.
“Fui obrigada a deitar no sofá e levantar os joelhos. Os médicos então realizaram um exame que, no jargão moderno, equivaleria a uma palpação desprezível. Supostamente, eles estavam procurando testículos ocultos. Foi a experiência mais cruel e degradante pela qual passei em toda minha vida”, descreveu Mary Peters, representante britânica do pentatlo moderno (ela foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972).
A ideia desse procedimento, que ficou conhecido como “teste de feminilidade”, era evitar que um homem pudesse competir na categoria feminina trapaceando as regras. Isso aconteceu apenas uma vez na história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna – em 1936, quando, por ordem do governo nazista, Dora Ratjen disputou o salto em altura pela Alemanha ficando em quarto lugar. Dora era, na verdade, Hermann Ratjen que, mesmo disfarçado de mulher, não conseguiu subir ao pódio na categoria feminina.

Em 1968, esse teste passou a ser aplicado em todas as atletas que fossem disputar a Olimpíada em alguma modalidade. Por conta das inúmeras contestações a respeito da “palpação”, houve uma alteração do protocolo para que o teste fosse “apenas” visual, sem toque. As atletas precisariam passar nuas por um comitê formado por três médicas que determinariam se elas atendiam aos critérios que as classificariam como “mulheres”.
“A justificativa dada pela entidade (COI), nesse intervalo que contempla a Guerra Fria, era de que os resultados de algumas atletas do bloco oriental soviético seriam incompatíveis às expectativas de desempenho para uma mulher. A entidade suspeitava que homens estivessem se infiltrando na categoria feminina e seria necessário ‘proteger’ as mulheres dessa invasão (CAVANAGH e SYKES, 2006). Surge, então, uma série de testagens que vão da inspeção visual dos órgãos genitais de todas as atletas, entre 1966 e 1968, até as provas cromossômicas entre 1968 e 1998 (WACKWITZ, 2003)”, conforme relata a pesquisadora de Gênero e Sexualidade no Esporte da USP Waleska Vigo em sua tese de doutorado.
Após as reclamações sobre o constrangimento dos exames visuais, o COI (Comitê Olímpico Internacional) mudou o protocolo para exigir, então, um teste cromossômico que determinaria, pela presença ou não do cromossomo Y (característico do sexo masculino), se a atleta estaria ou não “trapaceando” o sistema. O procedimento ali era menos invasivo, passavam um cotonete na bochecha delas para retirar as células que possibilitariam o mapeamento dos cromossomos.
Carteirinha rosa
Nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 1968, nasceu a tal “carteirinha rosa” – uma espécie de atestado de feminilidade que permitia às atletas que passassem pelo teste competirem em categorias femininas. Foram 781 mulheres naquela edição e todas elas tiveram que fazer o exame. No documento, vinha a comprovação científica para ser apresentada em todas as competições validadas pela federação daquela modalidade. Na falta dele ou em caso de qualquer “incongruência” no exame, a atleta seria proibida de competir. No texto da carteirinha, vinha escrito algo como:
“A atleta acima mencionada passou por aprovação em teste médico, cujo resultado da cromatina sexual foi positivo. Isso satisfaz os requisitos para competições femininas”.

De 1968 a 1998, ou seja, por oito edições olímpicas, todas as mulheres que conseguiram vaga para disputar os Jogos eram submetidas a esse teste. Em trinta anos, mais de 11 mil atletas fizeram os exames para comprovar sua feminilidade antes de competir. Nunca foi encontrado nenhum caso de “homem” se passando por mulher para competir na categoria feminina.
Quantidade de atletas testadas
Munique, 1972: 1.280
Montreal, 1976: 1.800
Los Angeles, 1984: 2.500
Barcelona, 1992: 1.406
Atlanta, 1996: 3.387
Total: 11.373
A médica da seleção feminina de basquete em 1996, Marli Kekorius, conta que o procedimento era realizado por todas as atletas em um laboratório credenciado pelo COI. Os resultados positivos garantiam a emissão dos certificados das atletas (apelidados de “carteirinha rosa”) que eram encaminhados para a confederação.
“O teste era feito aqui no Brasil, e as atletas deveriam portar o certificado. Mas, como muitas delas perdiam ou esqueciam, eu levava uma cópia para a CBB e outra para a FIBA. O exame era feito só uma vez e o resultado valeria sempre, mas como muitas atletas perderam os delas, tivemos que fazer novamente. Depois que tomamos a atitude de guardar esses exames na confederação, não tivemos mais problemas”, relatou.
Quando o teste indicava a presença dos cromossomos sexuais XX, a atleta estava “apta” a competir na modalidade feminina. Mas existiram “Y”s inesperados no meio do caminho. E aí?
Teste arruinou carreira de espanhola
Atleta da corrida com barreiras, Maria José Martínez Patiño era uma das mais promissoras da Espanha na década de 1980. Passou pelo teste de feminilidade em 1983, mas acabou se esquecendo de levar o resultado para o Mundial Universitário de Atletismo em Kobe, no Japão, em 1985. Lá, precisou fazê-lo novamente, e o resultado atestou a presença do cromossomo Y. Ela foi reprovada e não pôde competir.

A instrução dada por seus técnicos e pela confederação do país foi para que ela fingisse uma lesão e não deixasse o caso vazar enquanto não “resolvesse” a questão. Mas o caso de Patiño demonstraria a grande incongruência das regras impostas pelo COI às mulheres. Apesar de apresentar o cromossomo Y, ela sofria de síndrome de insensibilidade androgênica, o que significa que nenhum de seus tecidos ou células respondiam à testosterona. Sendo assim, ela não desenvolveu o órgão sexual masculino, nem qualquer característica típica da testosterona. “Eu sabia que eu era uma mulher. Pelos olhos da medicina, pelos olhos de Deus e, acima de tudo, pelos meus olhos. Se eu não fosse atleta, minha feminilidade nunca teria sido questionada”, disse.
Impedida de competir, Patiño nunca aceitou a decisão dos órgãos esportivos e apelou de todas as formas. Isso fez seu caso ganhar a atenção da mídia da pior forma possível. Humilhada nos jornais como uma mulher que tentava “fraudar” o sistema, ela perdeu todas as medalhas conquistadas até ali.
“Eu perdi amigos, perdi meu noivo, minha esperança e minha energia. Mas eu sabia que eu era uma mulher e que minha diferença genética não me dava nenhuma vantagem física. Eu não conseguiria nem fingir ser um homem. Eu tenho seios e uma vagina. Nunca trapaceei. Eu lutei contra minha desclassificação”.
Patiño não pôde disputar os Jogos de 1988, mas conseguiu reverter a decisão do COI e voltou a se tornar apta a competir no Atletismo mundial. O problema é que aí o auge da sua carreira já havia passado, e ela não conseguiu se classificar para a Olimpíada de 1992 por dez centésimos de segundo.
Testes de feminilidade ainda existem
Após muita pressão das atletas, o COI decidiu suspender o teste de feminilidade imposto a todas as atletas a partir dos Jogos Olímpicos de Sidney. Mas isso não extinguiu a existência dele para sempre. Hoje, a verificação é recomendada quando existe algum questionamento sobre alguma atleta em específico. É o que acontece no caso da sul-africana Caster Semenya.

Bicampeã olímpica nos 800 metros e tricampeã mundial na mesma categoria , Semenya foi submetida ao primeiro teste de feminilidade ainda aos 18 anos quando conquistou o ouro no Mundial de Berlim terminando a prova em 1:55:45 (dez segundos mais lenta que o campeão da mesma distância no masculino). Desde então, ela foi questionada por adversárias alegando que Semenya “parecia um homem” e passou por inúmeros testes, incluindo análises sanguíneas, provas cromossômicas, exames genitais e ressonância magnética.
Nesse meio tempo, a IAAF classificou a atleta como um “homem biológico com identidade de gênero feminina”. Semenya tem o cromossomo Y e produz mais testosterona do que o considerado “normal” para mulheres e, por isso, a entidade máxima do atletismo exige que ela controle esses níveis de hormônio no corpo para poder competir entre as mulheres. A sul-africana chegou a tomar remédios para isso, mas sofreu com ganho de peso, cólicas e outros efeitos que a fizeram desistir. Atualmente, ela está proibida de competir em eventos de 400m a 1.500m.
O que muitos especialistas questionam é se há mesmo um único critério que possa definir uma atleta como apta a competir nas categorias femininas (como já foi o cromossomo XX e agora é o nível de testosterona no sangue). Além disso, eles levantam o debate: por que as mulheres que conseguem ser excepcionais em seus esportes são vistas imediatamente como “estranhas”? Aconteceu com a tenista Serena Williams, acontece agora com Caster Semenya.

“Quando são homens que ocupam esse espaço genético único, eles são elogiados por isso, são como ‘deuses’ entre nós. Quando são mulheres, elas imediatamente são colocadas como suspeitas. Ninguém nunca questionou Shaquille O’Neal por ser muito alto ou muito forte. Michael Phelps já foi muito elogiado por ter desenvolvido um corpo de peixe, mas ninguém diz que ele leva vantagem por seus tornozelos flexíveis, ninguém diz que ele é ‘estranho’. As pessoas dizem: uau, que maravilha genética é o Phelps”, exemplifica o jornalista esportivo do The Nation, Dave Zirin, no documentário “Sports On Fire: She Runs Like a Man”.
Professora Doutora da USP e pesquisadora da história olímpica há mais de duas décadas, Katia Rubio pontua que a participação das mulheres no esporte sempre esteve submetida às determinações feitas por homens. E que os testes de feminilidade foram construídos sobre uma ideia ultrapassada da inferioridade feminina.
“É interessante pensar que a participação das mulheres no esporte sempre foi condicionada aos limites indicados pelos homens que sempre foram as lideranças do esporte. Então se no primeiro momento elas foram impedidas absolutamente de participar e depois foram aceitas paulatinamente, elas vão ser sempre entendidas como usurpadoras de um espaço construído para ser masculino”, afirmou.
“Toda vez que uma mulher se aproximar dos resultados dos homens que, historicamente foram construídos antes e por mais tempo do que as mulheres, elas vão ser questionadas sobre sua essência feminina, que é de inferioridade ao homem, de incompetência em relação ao homem. Isso é uma ideia higienista, machista, e acima de tudo pouco humana do século 19”.
A doutoranda Waleska Vigo também ressalta que, na história olímpica, sempre tentou-se limitar os caminhos das mulheres. “Do documento mais recente do COI – publicado em 2015 – que contempla assuntos como a inclusão de atletas trans e intersexo, até as primeiras cartas do Barão Pierre de Coubertin, se vê uma busca constante dessa entidade por um ideal de mulher para os esportes. Enquanto não há limites estabelecidos de desempenho para os homens, existem expectativas quanto aos resultados das mulheres. Os homens são super-heróis quando batem recordes, as mulheres aberrações. Ou seja, não só para o COI, mas, em especial para a IAFF, há um modelo preponderante e ‘autêntico’ de mulher, que deve ter certa aparência e atingir resultados sempre inferiores ao dos homens. Isso é confirmado pelos anos a fio de aplicação dos testes de verificação de gênero. Com isso, todos os corpos que não se adequam a esse modelo são excluídos ou precisam passar por um processo de normalização para participar das competições, como é o caso de atletas trans ou intersexo. Já na categoria masculina, não há um ‘homem autêntico’ a se procurar, todos o são”, pontua.
Todos os seres humanos têm características distintas. Alguns são mais altos, outros são mais fortes, outros mais resistentes. Não há como unificar um critério para determinar como “padrão” para definir as mulheres ou os homens. Por isso, a antropóloga e bioeticista (pesquisadora de intersexualidade e testes de verificação sexual no esporte) Katrina Karkazis encerra o documentário “She Runs Like a Man” levantando aquela que talvez seja a principal questão sobre os testes de feminilidade hoje em dia: “Acho que está na hora de perguntarmos por que temos o teste de feminilidade e quais problemas ele está resolvendo? Acho que ele cria mais problemas do que resolve”.
*Colaborou Waleska Vigo Francisco, doutoranda pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Integrante do Grupo de Estudos Olímpicos da USP (GEO-USP). Pesquisa Gênero e Sexualidade no Esporte.