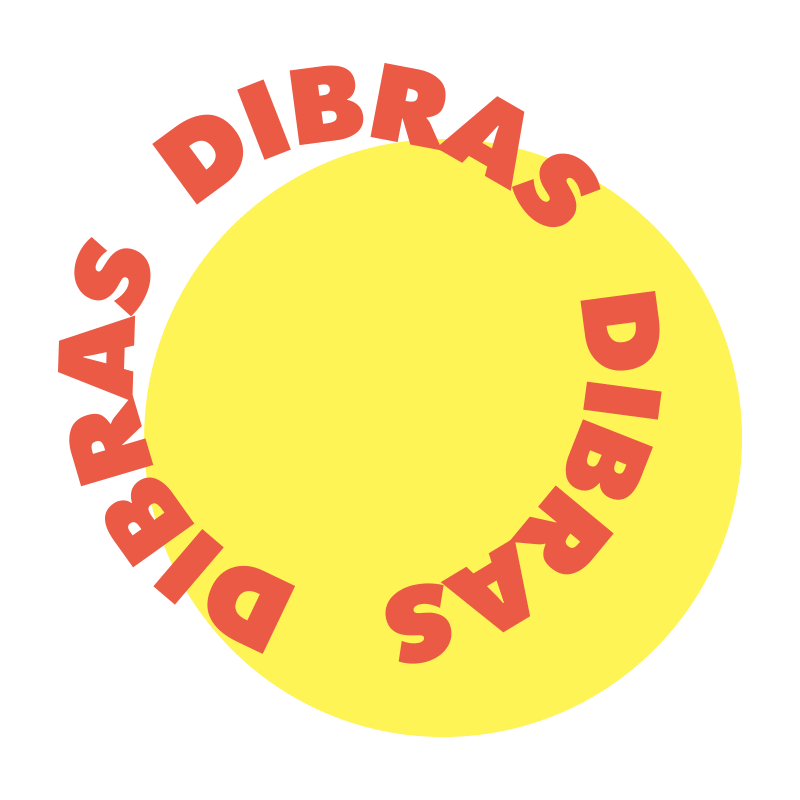Quando Silvia Regina apareceu para apitar seus primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, no início dos anos 2000, eu ainda era uma adolescente sem muita consciência do que aquilo significaria. A força, a segurança e a persistência daquela mulher em ocupar um espaço tão, mas tão adverso para ela, eram admiráveis – mas eu não conseguia perceber a dimesão de tudo aquilo.
Passaram-se anos de vida, e o acúmulo de “experiência” como espectadora e amante do futebol hoje me fazem questionar por que não vieram outras Silvias Reginas depois dela. Aqui no Brasil, ver uma árbitrA apitando a primeira divisão do futebol masculino virou lenda – que a nova geração praticamente não acompanhou.
Engana-se quem pensa que a explicação para isso esteja na “falta de interesse” das mulheres. Semanas atás, me deparei com um comentário a respeito da atuação de Silvia Regina em um jogo (que pode ajudar a explicar por que mais mulheres não se arriscam a ocupar esse cargo):
“Quero fazer um pronunciamento não como técnico, mas como professor de Educação Física. Em jogo de alta velocidade, o acompanhamento de uma mulher não dá! Falo no aspecto biológico, não no aspecto técnico. Ela (Sílvia Regina) pode até ser boa tecnicamente, mas não tem estímulo para acompanhar o ritmo de um jogo tão veloz”.
Essa foi a declaração de Tite, então técnico do Corinthians, após perder um clássico em 2005. O ataque não foi a erros da arbitragem (que no caso era comandada por uma mulher), mas ao fato de ela, por ser mulher, não ser “capaz” de apitar uma partida de futebol de homens.
As críticas às mulheres que ousam atuarem como árbitras ou bandeirinhas são sempre pelo viés do gênero. Fernanda Colombo, assistente que também atuou na elite do futebol brasileiro, ouviu coisas similares após uma partida entre Atlético-MG e Cruzeiro em que atuou como bandeirinha em 2014.
“Se ela é bonitinha, que vá posar na Playboy, no futebol tem que ser boa de serviço. Ela não tem preparo, os caras gritam e ela erra”, disse Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruzeiro à época.
Anos depois, consegui entender a lógica de tudo isso – que talvez explique por que ainda não há mais mulheres ocupando espaços na arbitragem brasileira. Asssistindo in loco à experiência de uma outra bandeirinha que atuava em uma partida bem menos “badalada”, vi de perto as situações que ela teve de enfrentar.
“Renata, eu te amo! Casa comigo!”. Esse grito me chamou a atenção na hora que cheguei às arquibancadas do estádio do Juventus na rua Javari, em um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016.
Não demorou muito até que eu entendesse para quem esses comentários eram direcionados. “Pqp, vai lavar louça!”; “Tinha que ser mulher…”. Na hora, parei de prestar atenção no jogo e olhei para a lateral do campo. Estava ali o alvo de tudo. Renata Ruel era a bandeirinha daquela partida e desde os primeiros minutos de jogo já estava sendo “colocada no seu lugar” pelos torcedores.
Dali em diante, decidi que prestaria mais atenção no que acontecia com ela do que na bola que rolava em campo. E devo dizer que, apesar de não ter ficado surpresa com o que ouvi – toda mulher está acostumada a lidar com isso, infelizmente -, bufei de raiva inúmeras vezes ao me colocar no lugar da bandeirinha que estava ali, apenas tentando trabalhar e que sequer podia esboçar reação para tudo o que estava ouvindo.
“Bandeirinha gostosa!”. “Casa comigo, bandeirinha, eu trago um padre agora”. “Bandeirinha, não te conhecia, mas sempre te amei.” “Olha, você tá de parabéns, hein, bandeirinha”. “Que saúde!”.

De repente, lance polêmico. “Volta pra cozinha!”. “Seu lugar é no tanque!”.
Tudo bem, de início, os gritos vinham da arquibancada e, mesmo com a proximidade dela com o campo, é bem possível que Renata sequer tenha ouvido os insultos – ela já deve ter treinado muito para abstrair isso.
Mas eis que em determinado momento, ainda no primeiro tempo, três senhores de meia idade (deviam ter entre 30 e 40 anos) se levantaram e foram até o alambrado. E a partir daí, passaram a seguir Renata pra onde ela corresse. Quem conhece o estádio do Juventus, sabe. Ali, o alambrado – por sinal, uma das melhores coisas do futebol que ainda resiste na Javari – deixa uma distância ínfima entre o torcedor e o campo. Eles estavam a menos de 1 metro dela. E gritavam:
“Delícia, você é uma delícia”. “Com essa eu casava”. “Bandeirinha, você é demais”. “Que pernas, meu Deus do céu!”.
Eu fiquei ao lado deles o tempo inteiro. E em tudo isso, eu só conseguia pensar na cabeça da Renata. E comecei a imaginar como seria se tivesse que conviver com a mesma coisa. Se quando estivesse escrevendo as minhas matérias, tivesse dois, três, cinco caras atrás de mim fazendo comentários sobre o meu corpo ou ainda me mandando voltar para a pia para lavar a louça. E tudo isso sem poder dizer NADA. Sem poder sequer virar para olhar no olho daqueles que me insultavam.
Eu não conseguiria. Simplesmente não conseguiria. Certamente me desconcentraria, esqueceria o texto, o jogo, esqueceria o que quer que estivesse fazendo e pensaria apenas na raiva e na vontade de responder a esses covardes.
Nenhum daqueles três que passaram praticamente os 90 minutos assediando a bandeirinha tinha intenção de sair com ela depois do jogo. Se, dado o apito final, ela virasse para eles e dissesse “me encontrem no vestiário”, nenhum deles iria. A reação provavelmente seria “não, moça, eu sou casado, não dá”. Mas eles sabem que ela não pode dizer nada – e é aí que a “coragem” cresce.
E não estou dizendo aqui que não pode xingar o árbitro ou a árbitra. Eu também vou ao estádio e xingo. Mas não precisa recorrer a expressões machistas para isso. É engraçado perceber que quando é O bandeira, ele é burro, não sabe a regra, é cego, é imbecil, idiota, ignorante. Quando é A bandeira, ela tem que voltar pra cozinha, lavar roupa, ir pra pia, sair dali, porque “não é o lugar dela”.
Só que agora os tempos estão mudando. Ainda em 2016, um jogador levou o segundo amarelo e foi expulso depois de dizer para a bandeirinha “que futebol não é coisa pra mulher”. E, ainda bem, as atitudes que passavam “batido” no passado, hoje suscitam debates e geram repercussão negativa – não dá mais para mandar a bandeirinha “ir posar para a Playboy” e passar ileso às críticas.
Mas algumas coisas, infelizmente, ainda não mudaram. Dentro de algumas federações, o espaço às mulheres na arbitragem continua sendo negado. Na própria Federação Paulista de Futebol, onde surgiu Silvia Regina, hoje em dia tem diminuído o número delas no quadro de árbitras e assistentes. Inclusive, recentemente, a entidade convocou uma reunião para explicar as orientações para o Campeonato Brasileiro e deixou de fora TODAS as mulheres que fazem parte do quadro de arbitragem paulista. A justificativa, conforme noticiou a repórter da ESPN Gabriela Moreira, foi a “falta de lugares” no recinto.
Olhando para todo esse cenário, dá para entender por que outras “Silvias Reginas” não tiveram a chance de apitar um jogo de elite do futebol brasileiro. E por que tem diminuído o número de mulheres que ingressam na arbitragem, seja como árbitra ou como assistente. O Brasil foi pioneiro ao ter uma primeira árbitra apitando o Brasileiro ainda em 2002 – a Alemanha, por exemplo, só chegou a esse feito no ano passado -, mas logo fechou as portas para as que poderiam vir depois dela. Aos dirigentes (de federações e confederações), falta entender a importância dessa inclusão e valorizar o quadro feminino ali. E aos torcedores e torcedoras (as mulheres também fazem xingamentos machistas), falta tratar com respeito profissionais que estão ali por competência – e portanto, devem ser criticados ou elogiados tão somente por esse aspecto.