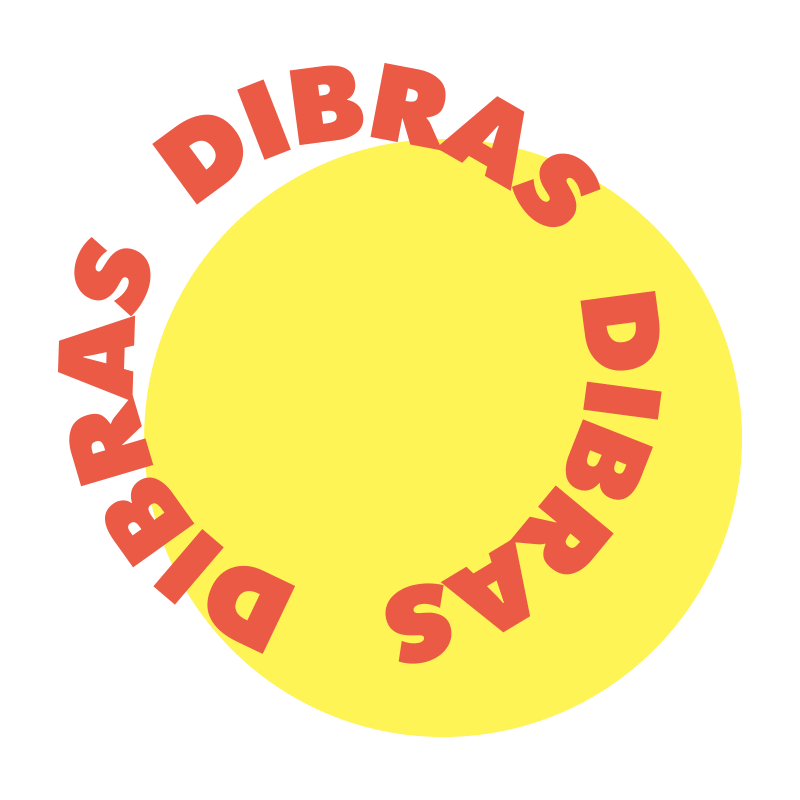08/03/20
O Dia Internacional da Mulher é para lembrar da luta que trouxe todas nós até aqui. No esporte, por muito tempo tentaram nos manter distantes, mas foi por causa de mulheres como as citadas abaixo que hoje temos nosso espaço. Aqui estão seis histórias pouco conhecidas de mulheres (brasileiras e estrangeiras) que desafiaram as regras da época pela representatividade feminina no esporte. Em comum, elas têm o espírito de luta. Mulheres que nunca aceitaram a lógica que tentaram impor para elas e conseguiram provar que o esporte também é lugar para elas.
Stamata Revithi
Se o chamado ‘pai da Olimpíada’, Barão de Coubertin, um dia disse que “uma mulher nos Jogos Olímpicos seria algo impraticável, desinteressante, ruim para a estética, e incorreto. Os Jogos devem ser reservados aos homens. O papel da mulher dever ser coroar os campeões”, mal sabia ele que na própria primeira edição da competição que criou haveria uma mulher para desafiar isso.
A grega Stamata Revithi não aceitou a ideia de que nenhuma mulher poderia competir naqueles Jogos em 1896 e quis logo participar da maratona, a prova mais tradicional da Olimpíada. Os organizadores a negaram como competidora, mas ela apareceu em meio aos atletas no local de largada, diante de uma igreja a espera da bênção do padre para que todos pudessem iniciar o percurso. O padre se recusou a benzê-la e ela acabou impedida de correr.
Pois no dia seguinte, Revithi decidiu que faria ela própria a rota da maratona, com ou sem o aceite dos organizadores. Conseguiu assinaturas de muitas pessoas para comprovar sua largada às 8h30 da manhã daquele dia. Às 11h30, ela chegou ao estádio Panathinaiko, o ponto de chegada oficial da maratona, mas também não a deixaram entrar.
Não há registros oficiais do feito de Stamata Revithi, talvez numa tentativa de apagar sua conquista da história. Demoraria mais de 70 anos até que uma mulher pudesse correr oficialmente uma maratona – foi na Maratona de Boston de 1967, quando Kathrine Switzer quebrou as regras e conseguiu se inscrever – e somente em 1984 elas foram aceitas para competir essa prova nos Jogos Olímpicos.
Alice Milliat

Os Jogos Olímpicos da era moderna nasceram em 1896 com uma determinação clara de um de seus principais idealizadores, o Barão de Coubertin: as mulheres não teriam vez na competição. Uma frase dele deixava isso bem claro à época. “As mulheres serão sempre imitações imperfeitas. Nada se aprende vendo-as agir; e assim os que se reúnem para vê-las obedecem preocupações de outra espécie (…) Talvez as mulheres compreenderão logo que esta tentativa não é proveitosa nem para seu encanto nem mesmo para sua saúde”.
Mas as mulheres nunca aceitaram a ideia dessa exclusão. E uma delas, para garantir representatividade feminina no esporte, decidiu criar os Jogos Olímpicos das mulheres em 1921. Francesa nascida em Nantes em 1884, Milliat estudou para ser professora e sempre foi muito ativa nos esportes, especialmente no remo. Ela passou a reivindicar uma maior participação feminina na Olimpíada, já que até então as mulheres eram aceitas somente em esportes considerados “adequados” para elas: golfe, tênis, tiro com arco, natação, patinação e esgrima.
Em 1919, Milliat foi ao Comitê Olímpico Internacional pedir para incluir o atletismo feminino no programa da Olimpíada. “Eu dei de cara com um enorme não deles. Foi isso que nos motivou a criar os Jogos Olímpicos das Mulheres”, contou.
A primeira edição desses Jogos aconteceu em 1921 em Mônaco com a participação de delegações femininas da França, Inglaterra, Itália, Noruega e Suécia.
No ano seguinte, foram 38 países de 5 continentes que se afiliaram à organização também fundada por Melliat – a Federação Esportiva Feminina, FSFI – e a decidiram que os Jogos Olímpicos das mulheres seriam realizados de quatro em quatro anos. Isso aconteceu entre 1922 e 1934, e as edições olímpicas femininas reuniram centenas de atletas e milhares de torcedores. Nos Jogos de Paris, em 1924, cerca de 15 mil pessoas foram ver a competição das mulheres. Há até mesmo um jornal parisiense comparando o sucesso da competição idealizada por Alice Milliat com o da Olimpíada criada por Coubertin. Entre 1920 e 1930, a iniciativa dela foi o que mais incentivou as mulheres no esporte, enquanto o COI ainda fechava os olhos para a representação feminina nos Jogos.
Milliat não desistiu de tentar convencer a entidade a incluir mais esportes femininos no programa olímpico, mas não isso ainda demorou a acontecer. Aos poucos, o COI foi cedendo e trazendo mais modalidades femininas, mas somente em 2012 finalmente houve igualdade nas modalidades oferecidas – com a inclusão do boxe feminino, as mulheres puderam disputar as mesmas modalidades que os homens pela primeira vez na história dos Jogos.
Sahar Khodayari, a “menina azul”

Em setembro de 2019, veio à tona uma notícia que chocou o mundo. A iraniana Sahar Khodayari tinha 29 anos e era torcedora fanática do Esteghlal Teerã. Só que no Irã, mulheres são proibidas de entrar em estádios de futebol. O governo do país adota severas restrições às mulheres se apoiando no extremismo da religião islâmica e, para driblar a regra, Sahar tentou se disfarçar de homem para ir ao jogo em 12 de março do ano passado.
O problema é que ela foi identificada como mulher e foi presa por conta disso. Com o pagamento da fiança, a mulher foi liberada dias depois para aguardar seu julgamento, que aconteceu em 1º de setembro. A primeira parte do julgamento aconteceu e, quando a chamada “menina azul” (ficou conhecida assim por usar as cor azul, do seu time, no dia da prisão) soube que poderia ficar detida por até seis meses, ela ateou fogo no próprio corpo com gasolina. Sahar foi socorrida e levada ao hospital, mas acabou morrendo no dia 10 daquele mês.
A morte dela reacendeu o debate no país pela liberação das mulheres nos estádios. Houve grande repercussão mundial nas redes sociais, e o Irã passou a ser bastante pressionado por isso. Um apelo foi feito pela Fifa à federação iraniana e, em alguns jogos, mulheres já foram liberadas para entrar e ficar num espaço restrito a elas. Aparentemente, será um caminho sem volta.
Irenice Rodrigues

A atleta do salto em altura Irenice Rodrigues é uma lenda “escondida” do esporte brasileiro. Na década de 1960, quando decidiu se dedicar a mais provas do atletismo do que a sua especialidade, ela tentou o salto em distância, os 400 metros e desafiou as normas da época ao se arriscar nos 800 metros.
Naquela época, essa prova era proibida para mulheres. Havia a ideia de que elas não teriam capacidade física para correr essa distância em competição. No início de 1965, Irenice, que era atleta do Botafogo, quis competir também em provas de 800 metros e até virou notícia por isso.
O Jornal dos Sports em julho de 1967 cita sua preparação para essa prova e a discussão da medicina em torno da participação feminina na modalidade.
“A meio fundista Irenice Maria Rodrigues, atleta do FFC, que sábado último melhorou em 6s e 3décimos sua marca sul-americana dos 800m rasos – feito por ela repetido pela segunda vez – não havia sido cogitada para se tornar a única corredora do Brasil nesta difícil prova que hoje ainda é o tema principal de reuniões da medicina esportiva de todo mundo. Sua adaptação à difícil prova durou 5 meses, graças aos esforços do seu técnico Genario Simões e do Dr. Renato, encarregado de estudar as possibilidades físicas de Irenice para uma prova de tamanha envergadura para o sexo feminino”, dizia a reportagem.
Irenice foi recordista brasileira dos 400 metros e sul-americana dos 800 metros. No Pan-Americano de 1967 em Winnipeg, ela correu a prova “proibida” e estabeleceu o tempo recorde. No ano seguinte, ela deveria estar na Olimpíada, mas uma suposta “conduta antidesportiva” a fez ser expulsa da delegação. A verdade é que Irenice incomodava. Uma mulher negra que militava contra a ditadura militar da época e que desafiou a orientação do COB para atletas femininas ao buscar o índice olímpico para competir os 800 metros não poderia ser bem-vinda. O pior foi que, por conta de suas reivindicações com os dirigentes esportivos da época, Irenice acabou banida dos Jogos de 1968 e teve seus registros no esporte “apagados” dos documentos oficiais.
“Ela sempre teve uma história de contestação. Os pensamentos autoritários tinham entrado em toda a estrutura do país, inclusive no esporte. Irenice era negra, mulher e pobre. Sua história é reveladora de lutas que aconteceram em outros extratos, como a classe trabalhadora. Essa é uma história perversa de apagamento, tirando uma pessoa do mapa, ainda que seu recorde nos 800m tenha perdurado até recentemente. O que ela fez não foi pouca coisa”, destaca Thiago B. Mendonça, um dos diretores do curta-metragem “Procura-se Irenice”.
Jaqueline Silva

Jaqueline Louise Cruz Silva, a Jackie Silva, cravou seu nome na história do esporte brasileiro tornando-se a primeira mulher (ao lado de Sandra Pires) a conquistar uma medalha de ouro em uma Olimpíada. Isso aconteceu em 1996 quando elas foram campeãs no vôlei de praia. Mas antes disso, Jackie enfrentou uma queda de braço com um dos dirigentes esportivos mais importantes do país (que chegou a ser preso em 2017), Carlos Arthur Nuzman.
Levantadora nas quadras, Jaqueline já havia disputado duas Olimpíadas (1980 em Moscou e 1984 em Los Angeles), mas após algumas divergências, foi obrigada a dar outro rumo na carreira. A jogadora encabeçou protestos contra a Confederação Brasileira de Vôlei por conta de diferenças salariais e de tratamento entre as seleções masculina e feminina “Era aquele negócio: compre um e leve dois”, afirmou a atleta às dibradoras. Na ocasião, a equipe masculina de vôlei recebia parte do patrocínio que a seleção tinha, enquanto a feminina somente vestia a marca e não recebia nada. Revoltada e contra essa condição, Jackie vestiu a camisa do patrocinador ao avesso.
Isso fez com que Jackie fosse boicotada no Brasil e ela precisou ir à Itália para seguir jogando. Até que foi convidada para jogar vôlei de praia nos Estados Unidos e decidiu apostar naquele esporte em ascensão. Ela era uma das melhores atletas do mundo na modalidade e isso fez com que Nuzman desse o braço a torcer para convencê-la a representar o Brasil nos Jogos de 1996. Ela não só representou, como ganhou o primeiro ouro da história das mulheres brasileiras em Olimpíadas.
“Essa conquista histórica, na realidade, é parte de tantas histórias, de tantas atletas incríveis que abriram a estrada e vieram lá de baixo”.
Sissi

Antes de Marta surgir com sua genialidade e os prêmios de melhor do mundo, num tempo em que o Brasil fazia questão de ignorar as mulheres no futebol, uma das melhores jogadoras da história fazia chover dentro de campo. Da pequena Esplanada, uma cidade de 35 mil habitantes no nordeste da Bahia, Sissi surgiu jogando bola na rua à revelia daqueles que insistiam em repetir que “isso não era coisa pra menina”.
Ela não tinha uma bola, porque todos lhe negavam esse presente, mas já sabia a estratégia para conseguir uma no Natal. Quando perguntavam a ela o que queria do papai noel, a menina logo escolhia a boneca mais careca possível e com a cabeça mais redonda e pedia. Assim que chegasse o presente, Sissi decapitava o brinquedo e saía chutando a cabeça dele por aí. “Eu escolhia as bonecas olhando pra cabeça, pra ver qual seria melhor pra chutar”, contou às dibradoras.
Em 1988, fez parte da primeira seleção brasileira já formada e, na década de 1990, foi uma das melhores que o mundo já viu. Artilheira da Copa de 1999, Sissi fazia todos os tipos de gol, mas especialmente os mais bonitos. Uma qualidade de chute de fora da área, de cobrança de falta, e uma capacidade de encontrar espaços que impressionava. Mas foi também no seu auge, que Sissi viveu sua maior rejeição.
Sendo a melhor jogadora do país à época, ela chocava os dirigentes da CBF (e muita gente da época) por usar cabelo raspado. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a FPF aprovou um regulamento entre 1999 e 2000 que não permitia a participação de jogadoras de cabelo curto no Campeonato Paulista daquele ano. A medida não funcionou para Sissi – sua melhor resposta foi sair do Brasil e jogar nos Estados Unidos, onde está até hoje tendo muito sucesso como treinadora de times de base femininos.
“O que eu passei, não foi fácil, não. Sofri preconceito de todos os lados, da CBF, das pessoas. Os olhares, os comentários. Mas chegou um momento que eu falei: não tô nem aí. Não é isso que vai me definir como pessoa. O importante é que eu me sinta bem comigo mesma”, disse Sissi às dibradoras.
Não foi mesmo. E Sissi cravou seu nome na história do esporte brasileiro, apesar de nunca ter recebido uma homenagem sequer da CBF – nem mesmo no Museu da Seleção há uma menção a ela – nem ter tido um jogo de despedida digno.